O que fazer quando uma alma penada brinca com suas memórias afetivas?

Chovia incessantemente e o trânsito estava infernal, não que em dias ensolarados fosse muito melhor, mas sempre tive a impressão que todos os barbeiros da cidade tiravam o carro da garagem nos dias de chuva. Com aquela fila para passar a ponte, era de se prever que eu chegaria atrasado para acompanhar o cortejo.
Mesmo assim, não acreditava que o Cunha aceitasse isso como desculpa para o meu atraso ao enterro dele. O miserável era assim. Até na morte dava um jeito de sacanear os poucos amigos que ainda tinha. Na verdade, nós podíamos ser tudo, menos amigos. Mas tínhamos sido muito próximos em outra época. Vínhamos do mesmo lugar. Também moramos na mesma rua e havíamos tido os mesmos amigos e… a mesma namorada: Clarice! Infelizmente a conheci no tempo errado, na idade errada e em outras circunstâncias desfavoráveis para nós, mas era uma questão de tempo para tudo se resolver. Eu só não sabia que o Cunha estava na tocaia, pronto para se enfiar de mala e cuia na vida dela.
Que me perdoem os que lerem essas mal traçadas linhas, repletas de clichês, mas o trânsito parado era propício à reminiscência. Afinal, lembrar da Clarice, a caminho do enterro do Cunha, fazia todo o sentido para mim.
Eu a conhecia desde há muito, bem antes de ela se casar com o finado. Na verdade, eu é que deveria ter casado com ela, mas nunca tive coragem de lhe falar de algo mais sério, além das memoráveis sessões de amassos a bordo de um impávido fusquinha, emprestado do meu pai. Nesse chove e não molha, o Cunha apareceu de repente, acenando com outras possibilidades, e me levou a Clarice.
Sete anos se passaram. Nesse período, eu me formei em direito e fui para o exterior afogar minhas mágoas no Velho Mundo, mais precisamente nos bordéis de Budapeste. Quanto à Clarice, nunca mais a vi, nem tive nenhuma notícia dela, exceto a da morte do Cunha. Estranhamente, não foi de Clarice que recebi a notícia, mas de um amigo comum. Eu não devia dizer isso, mas foi a primeira vez que fiquei feliz com algo relacionado àquele estrupício.
Foi assim, com esse pensamento elevado, que eu finalmente cheguei no cemitério. Quando entrei na pequena capela, esforcei-me para não olhar para a mulher do defunto. Não queria ver seu olhar de tristeza e saudade daquele infeliz. Cunha tinha sido um canalha e todo mundo sabia disso, menos Clarice.
Eu me aproximei do caixão. Lá estava ele, com aquele nariz empinado, entupido de algodão. Tinha que reconhecer que o Cunha fazia uma bonita figura, como defunto, quero dizer. Estava melhor que em vida, eu pensei com uma boa dose de maldade. Dito assim, vai parecer ressentimento, coisa mal resolvida. Vai ver, é isso mesmo.
Clarice estava lá, de pé, ao lado do caixão. Uma figura bela e trágica, como uma heroína de histórias românticas. Eu não queria olhar para a viúva, mas não conseguia desviar os olhos dela.
De repente Clarice me viu e sua expressão se modificou. O olhar contido se transmutou em algo que eu não ousei acreditar. Teria visto um lampejo de satisfação ao notar minha presença? Eu já estava imaginando coisas, certamente. O significado daquele olhar poderia ter sido apenas gentileza, em agradecimento por eu vir ao enterro, nada mais.
— Meus pêsames. — Eu balbuciei desajeitado.
Ela sorriu levemente, como se compreendesse o conflito que eu trazia dentro de mim.
— Obrigada por vir. O Cunha o prezava muito, você sabe.
Não, eu não sabia. Eu e o defunto tivemos uma amizade estranha, só de aparências, como já disse. Quando lembro que já o tinha safado de algumas dificuldades, me maldizia por isso, mas o Cunha tinha Clarice e isso o redimia, e sempre o salvava em momentos cruciais.
— Eu também o estimava. — Menti. O momento para acertar as contas com o defunto já havia passado, de qualquer forma.
Se ela acreditou nisso, não sei dizer. Apenas pegou minha mão por um momento, e o gesto dissipou o desconforto que inadvertidamente eu sentia. Sem saber que atitude tomar, eu soltei a mão dela e apoiei minha mão no caixão. Foi quando toquei levemente os dedos gelados do defunto e tive a nítida impressão de ouvir sua gargalhada. O canalha ainda queria dar as cartas, pensei. Sobressaltado, retirei minha mão e olhei para Clarice. Ela olhava para o outro lado e, felizmente, não percebeu minha reação estranha
— Gustavo? — Chamou alguém. Eu estremeci ao ouvir meu nome, mas era um amigo dos velhos tempos. Não consegui lembrar seu nome, mas o apelido ainda estava em minha memória.
— Murruga?
— Em carne e osso. — Respondeu Murruga, do mesmo jeito que era quando adolescente.
— Rapaz, quanto tempo!
O Cunha pareceu gargalhar de satisfação.
“Grande! Isso aqui virou um reencontro?”
A frase surgiu em minha mente, mas poderia ter sido o pensamento do defunto. Talvez fosse mesmo.
— Pois é, há quanto tempo… — Disse Murruga, enquanto abria os braços.
— Está na hora! — Disse Clarice, de repente. — Você ajuda carregar o caixão?
A ideia não me era agradável, mas não tinha como recusar, embora minha vontade fosse tocar fogo no caixão ali mesmo.
— Sim, claro. — Respondi, com a imagem do cadáver sendo devorado pelos vermes, na minha mente. Essa mordacidade não me era habitual, mas lamentei que isso não tenha ocorrido enquanto ele ainda era vivo. Murruga, sempre solícito, pegou a alça do outro lado do caixão, enquanto outros dois desconhecidos seguraram as alças de trás.
O trajeto da capela até o local do sepultamento até que foi curto. Duro foi aguentar o peso do caixão. Como aquele desgraçado pesava! Parecia que o defunto levava com ele todo o peso de suas falcatruas feitas em vida.
“Quer parar de balançar? Estou ficando enjoado!” Imaginei o defunto a reclamar, como ele certamente faria, se estivesse vivo
— Cale a boca! — Murmurei, sem me dar conta de que estava falando sozinho.
— O que disse? — Perguntou Murruga, do outro lado do caixão.
— Não é nada, não. Só pensei alto, ao lembrar de uma discussão que tive numa reunião, antes de vir para cá.
Meu amigo sorriu levemente, indicando que me compreendia. A velha camaradagem ainda existia.
“Deixa de fricote, bobão! Esquece o que passou e olha para ela. Você a quer, não quer? Você sempre babou pela Clarice, vai negar? Olha só que ancas! Que bunda! Olha pra ela, pamonha!”
Ainda sem saber se tinha perdido de vez a razão, ou se era realmente o defunto atiçando meu adormecido desejo pela Clarice, tentei desviar o olhar. Por que ela tinha que caminhar justamente na minha frente? Ainda mais com aquele vestido preto, tão justo! Realmente… Que bunda!
Bem que tentei resistir à tentação, mas era difícil desviar o olhar daquele monumento ao pecado. Depois de um minuto peleando com meu lado pervertido, larguei de mão e fiquei a apreciar o belo traseiro da Clarice, sem nenhum pudor. E desse jeito eu teria seguido feliz em levar o falecido até sua última morada, mas estava escrito que isso não seria simples. Reza a lenda que as mulheres percebem quando algum gaiato crava os olhos em seus traseiros e eu, é claro, estava tão compenetrado em apreciar aquela visão sublime, que fui pilhado em flagrante delito. Clarice olhou para trás e me viu com aquela expressão de cachorro faminto ao ver um osso que não podia pegar. Fiquei completamente gelado e desviei o olhar para baixo, mas não antes de perceber um ligeiro brilho de satisfação na expressão dela. Estaria imaginando coisas? Mais uma dúvida atroz iria me atormentar para o resto da vida. Ela já tinha se virado e caminhava indiferente.
“Perdeu a deixa de novo, pamonha!”
Consternado, fixei o olhar em seus pés. Antes não tivesse feito isso. Que pezinhos ela tinha! Surpreso com a minha própria reação, me perdi em devaneios travessos, enquanto admirava os pezinhos de Clarice, perigosamente equilibrados num par de sandália de salto alto. De onde eu estava não via os dedos dos pés dela, mas imaginei as unhas caprichosamente pintadas de vermelho-escuro. Era a cor que eu via nas unhas da mão que aparecia na nuca, ao ajeitar insistentemente os cabelos para trás. Se eu já não tivesse ido longe demais naquele devaneio sacana, teria pensado que ela tentava me provocar. Talvez fosse isso mesmo, mas ia fazer o quê? Não podia simplesmente largar a alça do caixão e me aproximar. Afinal, o defunto ainda nem tinha baixado à sepultura. Para ser honesto, de qualquer modo eu não teria feito nada. Cadê a coragem para isso? Tudo o que pude fazer foi acompanhar seus passos no piso irregular.
Quando o caixão do Cunha finalmente baixou à sepultura, não pude evitar uma sensação de alívio. Enquanto eu via o coveiro lacrando o túmulo, imaginei que tudo tinha acabado ali, mas não foi bem assim. Ainda tinha Clarice e, ao lado dela, estava o … Cunha!
Não, eu não acreditei no que estava vendo, mas era impossível me enganar naquela distância! O falecido estava ao lado da viúva, todo sorridente a acenar para mim. Aparentemente, Clarice não o percebia e olhava a sepultura. Eu contornei o túmulo para me certificar de que não havia perdido o juízo, mas ele sumiu.
Naquele momento tive dúvidas de minha sanidade mental, mas se alguém poderia enganar a morte, esse alguém era o Cunha, certamente. Também não vi Clarice. Aparentemente ela tinha ido embora.
— Que pena. — Disse para mim mesmo, ao lamentar a oportunidade perdida.
— É realmente uma pena. — Disse Murruga, atrás de mim. — Mesmo ele, não merecia morrer tão jovem.
— O quê? Não, não. Tava falando da Clarice. Ela foi embora sem se despedir.
— A Clarice não estava aqui, Gustavo. Isso não seria possível.
— Como não? Ela estava bem à sua frente. Estava falando comigo.
— Gustavo… A Clarice faleceu há dois anos. Está enterrada ali, com o Cunha.
Eu gelei ao ouvir aquilo. Ainda sem entender, deixei que Murruga me levasse até o túmulo, onde pude ler a inscrição do nome de Clarice, com sua data de nascimento e falecimento.
Minutos depois, enquanto nos afastávamos do túmulo, ouvi a gargalhada do Cunha por entre o gemido do vento gelado, que trazia novamente a chuva. Ele não perdeu a oportunidade de fazer uma última piada.
12 – Lilith em Amsterdã
A última vez que estive em Amsterdã foi quando ainda era humana e estudava em Lisboa. Fiquei apenas alguns dias, mas lembro bem de uma festa que fui nos arredores da cidade. Aconteceu de tudo naquela noite libertina e me permiti experimentar todos os prazeres que me foram oferecidos. Meu pai certamente teria tido um ataque de apoplexia se soubesses das coisas fiz, mas não me importei muito com essa possibilidade. De algum modo intuía que meus dias de alegre libertinagem estavam no fim, como de fato aconteceu.
Não havia, naquela época, a variedade de drogas alucinógenas que tem hoje, mas o consumo de haxixe e ópio já era razoavelmente difundido pelos mercadores do oriente. Eu já os havia experimentado em Paris, entre um cálice e outro de absinto. Então o que rolou na noite de Amsterdã já me era familiar e aproveitei o quanto pude. Hoje já não consumo drogas de forma direta. Embora aprecie o efeito de algumas delas, deixei minhas experiências com alucinógenos por conta do acaso, quando bebo sangue de alguma vítima já drogada. Isso não é uma escolha muito sábia, eu confesso. Meu metabolismo não reage bem às drogas sintéticas, dessas que rolam nas raves. O efeito é ainda pior do que o causado por bebidas destiladas. Costumo ficar muito louca e o resultado disso é imprevisível e ruim para quem, quer manter sua existência oculta aos olhos dos humanos. Essa é uma boa razão para evitar os alucinógenos, mas Amsterdã continuava a ser o paraíso da transgressão e eu estava pronta para meter o pé na jaca.
Com efeito, isso aconteceu alguns dias antes de eu decidir voltar para o Brasil, após o exílio que me impus. Eu a encontrei no Dampkring, um coffeeshop que oferecia haxixe da melhor qualidade e numa variedade que não era encontrada em nenhum outro lugar. Seu nome era Ekaterina e eu a vi caminhar em minha direção, por entre a fumaça e a luz difusa e bruxuleante das velas que iluminavam o salão. Dizer que ela caminhava não reflete bem o que eu via. A garota parecia flutuar, como eu fazia ao me elevar com o auxílio das correntes de ar ascendente. Contudo, ali não havia correntes de ar e ela tinha um aspecto sobrenatural. Sua visão era estonteante, como uma pintura renascentista e, mais tarde, eu soube que aquela mulher estonteante provinha de algum país do leste europeu.
— Olá. — Ela me saldou em um inglês com forte sotaque.
Correspondi ao seu sorriso e a convidei para sentar. Eu estava curiosa, pois ela parecia estar me esperando.
— Eu tenho visto você vir aqui ocasionalmente. — Ela explicou, depois de se apresentar. – Em todas estava sozinha ao entrar, mas saía sempre bem acompanhada.
Aquele comentário me deixou em guarda. Eu havia ido ao Damkpring, como em outros coffeeshops, para escolher minhas presas. Felizmente eu as atraía para meu refúgio, longe dali, mas julgava que havia sido suficientemente cuidadosa.
— Você estava me vigiando?
Ela riu. Tinha os dentes imaculadamente brancos. Dentes de predador.
— Não, não. Você é uma mulher que chama atenção em qualquer lugar, não sabia? — Disse, enquanto afastava a ideia com um gracioso gesto.
— Tenho uma vaga ideia disso, mas geralmente são os homens que me notam. — Respondi.
— Mulheres também, não se engane. Você é bonita o suficiente para agradar gregos e troianas. — Ela retrucou com uma expressão maliciosa estampada no olhar.
— Você também. Há algo diferente em você.
— Diferente?
— Sim, mas não consigo definir racionalmente. Eu apenas sinto que você tem algo mais, além do que vejo. Há em você alguma coisa que me atrai.
Ela pareceu gostar do que ouviu e me brindou com outro sorriso encantador. Isso era um perigo. Sua tez branca emoldurava uma boca vermelha e carnuda, mas o que mais me impressionava era a força do seu olhar. Seus olhos eram castanhos escuros e refletiam a chama das velas que iluminavam o salão, como se cintilassem com luz própria. Se não fosse uma ideia absurda, eu poderia pensar que ela estava tentando me dominar. Não que isso me preocupasse, mas fiquei mais atenta. Depois de dois séculos existindo nas sombras, se adquire experiência suficiente para esperar todo imprevisto. Mas não era esse o caso. Depois de uns poucos minutos, percebi que ela estava com o estado de consciência alterado. Provavelmente tinha exagerado no consumo de spacecakes, um bolinho recheado de maconha, que serviam ali. O efeito costumava ser devastador para os desavisados.
— O que você está bebendo? — Ela perguntou, enquanto eu imaginava o quanto de Cannabis já estava em sua corrente sanguínea.
— Vésper.
— Ah! O coquetel preferido de James Bond. — Ela disse, enquanto pousava suavemente sua mão sobre a minha.
— Sério?
Ela ri de minha reação. Como é linda!
— Sim. Diz a lenda que esse coquetel foi criado pelo próprio Ian Fleming. Acho que vou querer um também. Eu simplesmente adoro essa bebida!
Eu não ouvi direito o que ela falava. Naquele momento, tudo o que eu conseguia era me concentrar na sensação que o seu toque me provocava. Ela conseguiu atiçar todos os demônios do desejo que haviam em mim.
A noite correu suave e solta. Havia em nós um elo de cumplicidade que há muito eu não conseguia estabelecer com ninguém. Minha natureza tem dessas coisas. Sou basicamente uma criatura de hábitos solitários e gosto disso, na maioria das vezes, mas nesta noite não. Meio que tomada de surpresa, eu percebi que a queria de um modo especial, não apenas por uma noite. Essa disposição não fazia muito sentido, considerando que eu nem a conhecia minutos antes. Algum tempo depois, estávamos rindo e trocando confidências como duas adolescentes, sem contar que em cada olhar trocado entre nós, havia uma miríade de promessas e intenções que quase escapavam ao controle e da prudência. Teríamos que esperar, mas não muito.
— Eu quero você. — Disse-lhe sem muita cerimônia.
— Eu também quero você. — Ela respondeu com a voz estranhamente rouca e a língua deslizando inquieta entre os dentes.
— Tem que ser agora.
— Vou chamar um táxi. — Ela falou, enquanto procurava o celular dentro da bolsa.
Eu segurei seu braço.
— Não precisamos de táxi. Tenho um estúdio perto daqui. Vamos?
Mal conseguimos esperar o garçom fechar a conta. Saímos caminhando apressadas pelas ruas estreitas. Meu refúgio era num pequeno prédio antigo, situado a três quadras do Damkpring. Eu o escolhi por estar cercado por um muro alto na parte de trás, guarnecido por uma grade de ferro batido, com espigões pontiagudos. Isso dificultava o acesso de intrusos e me permitia deixar a janela aberta para quando eu voltasse de minhas incursões noturnas.
Ao passarmos por um canto escuro, Ekaterina me puxou e nos beijamos com sofreguidão. Eu sentia sua língua forçando meus dentes e procurando a minha. Ela gostava de tomar iniciativa e eu consenti sem hesitar. Teria sido uma caminhada rápida, se não parássemos em cada canto escuro para nos beijarmos e nos tocarmos avidamente. Enquanto isso acontecia, eu decidi que não a mataria. Eu a queria não só por uma noite, mas essa intenção logo se revelaria algo impossível de concretizar.
A noite em meu refúgio tinha sido perfeita. Tanto que permanecemos juntas e assim dormimos durante todo o dia. Ela parecia não estranhar as janelas fechadas e as pesadas cortinas que nos resguardavam da luz. Na verdade, tive a impressão de que Ekaterina apreciava isso. Quando a noite chegou, eu despertei faminta, mas decidida a ignorar a vontade de cravar minhas presas em seu pescoço. Só não tinha a menor ideia de como me conter. Já tinha tentado isso em outras ocasiões e não havia dado muito certo. A única saída era deixá-la por algum tempo para caçar na noite de Amsterdã. Com sorte, eu teria o sangue de outro humano a me saciar e ela escaparia ilesa. Naturalmente eu esperava que minha adorável amante ainda estivesse ali, quando eu voltasse.
Eu me levantei devagar, com muito cuidado. Se ela acordasse seria o fim e eu não queria que terminasse da maneira habitual, para meus amantes ocasionais. Seria amor? Não sei. Mas não vou correr o risco de ceder à pieguice. Amor é algo que já não me lembro de ter sentido, desde Lorenzo. Mas ao olhar para ela, tão linda em sua nudez, sinto vontade de ficar, mas me contenho. Algo transcende a simples atração física, e não é minha sede. Maldizendo pela primeira vez minha natureza vampírica, eu saio sozinha para a noite de Amsterdã.
Uma hora se passou. Já saciada eu voltei para o meu refúgio. Antes de chegar, me perguntei se ela ainda estaria lá e mal continha a ansiedade. No céu estrelado, a lua cheia parecia zombar de minha agonia, mas não liguei a mínima. A lua não tinha Ekaterina, eu pensei de forma arrogante. Outro engano. Ao pairar acima do sobrado, percebi que a janela estava aberta, mas tudo estava às escuras, quando me deixei deslizar pelo parapeito.
O apartamento parecia estar vazio e isso me deixava um travo amargo em minha boca. Não mais, pensei. Então, eu ouvi o rosnado atrás de mim. Tentei me virar, mas o golpe que me atirou contra a parede foi mais rápido. Quando minhas pupilas se acostumaram à escuridão, eu vi a coisa. Era uma visão dantesca, mesmo para mim. Somente depois de alguns segundos eu reconheci Ekaterina. Ocorre que ela não era completamente humana. Como não percebi? Se ela fosse uma vampira teria sido relativamente fácil notar, pela temperatura corporal e o cheiro. Mortos-vivos são frios, exceto eu. Quanto ao seu cheiro, tudo o que eu sentia era algo que eu também exalava, o odor de uma fêmea no cio, misturado com Chanel número cinco. Talvez seu forte magnetismo animal pudesse ter me alertado, mas eu ignorei o que meu instinto me dizia. Assim, demorei a perceber que a adorável garota que havia dormido comigo era um maldito lobisomem e estava se preparando para atacar novamente. Pela boca escancarada e cheia de dentes, ela não estava me querendo do mesmo modo que antes. Por outro lado, eu não tinha a menor intenção de me tornar o Chapeuzinho Vermelho da vez.
Era a primeira vez que eu enfrentava uma besta como essa, mas sabia que ela tinha força suficiente para me ferir além da minha capacidade de regeneração. Ela poderia me matar! Não havia saída. Eu tinha que providenciar sua morte primeiro. Ekaterina estava diante da janela e isso me dava uma possibilidade de sair ilesa daquele encontro. No momento em que ela rosnava e ameaçava dar o bote, eu me antecipei e pulei sobre ela com toda a força que tinha. O impacto nos arremessou pela janela. Eu pairei no ar, mas ela não tinha a mesma habilidade e despencou de uma altura de dois andares. Não era suficiente para matá-la, mas a monstruosidade caiu sobre a grade pontiaguda de ferro batido que guarnecia o muro e ficou presa. Estava empalada.
Eu pousei diante dela, enquanto uma nuvem escura ocultou a lua cheia. A metamorfose ocorreu logo depois. Bem que poderia ter acontecido minutos antes. Ekaterina ainda estava viva, mas não seria por muito tempo. Procurei não pensar muito sobre o que ia fazer e me preparei para arrancar-lhe o coração, mas ela abriu os olhos e me fitou de um jeito que faria minha alma chorar depois, supondo que eu ainda tive uma.
— Por favor, não fale. Vou tirá-la daí e você poderá se recuperar.
— Não! Faça o que tem que fazer.
— Não! Não me peça isso, por favor.
— É preciso. Por favor, me liberte da besta.
Só então compreendi o que ela queria. Sua intenção não era realmente me atacar, mas provocar meu instinto de autodefesa.
— Você já sabia o que eu sou, não sabia? Você me usou para se matar. — Acusei ressentida. — Por isso veio até mim.
Ela conseguiu esboçar um sorriso triste e pegou minha mão.
— Não seja boba. Essa ideia me ocorreu depois, gradualmente. Não subestime os seus encantos. Ontem eu queria realmente você e me aproximei por isso. Agora faça, por favor. Antes que o brilho da lua retorne.
Eu já passei por isso antes e pensava nunca mais ser induzida a matar contra minha vontade. Matar não é algo banal para mim, como é para os humanos. Nem morrer. Morrer é como romper a crisálida e abrir as asas, mas não é menos doloroso renunciar a uma existência. Eu compreendia que Ekaterina não queria ceder à besta incrustada em sua alma. Ela não era um monstro e sofria sempre que a lua libertava sua fera, mas eu a odiei pelo que me forçava a fazer.
— Por… Favor. — Ela repetiu, num apelo quase inaudível. — Mas não beba meu sangue. Você já carrega sua maldição.
Eu nada disse. Acho que Ekaterina não compreenderia que foi minha escolha me tornar o que sou. Para mim, nunca foi uma maldição. Nisso somos diferentes. Sem mais hesitar, eu afundei meus dentes em sua carótida. Pouco me importava a maldição que ela carregava dentro de si. Naquele dia, eu não poderia prever que o sangue de Ekaterina em minhas veias e artérias, ainda salvaria minha vida.
O líquido escarlate escorria de sua artéria direto para minha boca, enquanto suas memórias preenchiam o vazio de minha escuridão. Havia nesse ato todo o amor que eu podia lhe dar. Ela me olhou uma última vez, como se compreendesse. Sorriu e expirou logo depois. Num movimento rápido eu quebrei seu pescoço. O estalo partiu meu coração também. Há muito não sentia aquela dor. Esperava que tivesse sido a última vez, mas no fundo da alma eu sabia que era uma esperança vã. Nisso consistia minha verdadeira maldição.
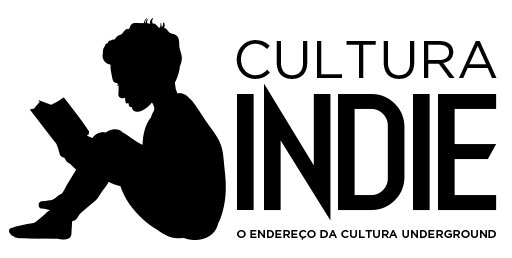

Deixe um comentário